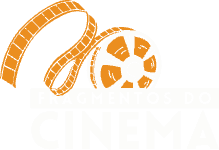O Agente Secreto (2025)
Direção: Kleber Mendonça Filho

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, pertence a um grupo de obras que não apenas dialogam com a memória, mas reviram a memória como quem reabre uma ferida antiga para descobrir que ali vive um feixe de luz.
Este não é um filme sobre espionagem, ação ou mistério.Este é um filme sobre o tempo, sobre o que ele apaga, sobre o que ele insiste em deixar para trás, sobre os rastros que sobrevivem mesmo quando ninguém mais parece lembrar. E é também um filme sobre o próprio cinema brasileiro, sobre seu passado, sua violência estética, sua precariedade criadora, sua genialidade involuntária e sua capacidade infinita de se reinventar. Um cinema que aqui teve sua cabeça aberta ao meio.
Kleber, ao invés de simplesmente filmar, joga com gêneros como quem manipula fósforos dentro de um depósito de pólvora. Ora acende, ora ameaça, ora deixa a luz vacilar. Seu filme é uma brincadeira séria, um exercício de estilo, um tapa estético em quem ainda tem coragem de repetir que “filme brasileiro é sempre igual”. Não é. Nunca foi. E O Agente Secreto prova isso com uma confiança absurda, uma confiança que só alguém que conhece o Brasil até a alma poderia ter.
Se em seu documentário,Retratos Fantasmas, era o filme que restaurava lembranças perdidas, O Agente Secreto é o longa que aceita que nem tudo pode ser restaurado, e que talvez a força esteja exatamente aí: na lacuna, no vazio, no inacabado.É um filme que entende a memória como algo imperfeito, orgânico, fraturado.Porque somos feitos assim: de lembranças que se dissolvem, de vidas que não terminam onde deveriam, de histórias que se encerram sem aviso.
E o filme retrata isso com uma precisão quase cruel. As imagens parecem nascer de um sonho meio torto, atravessado por ruídos, ecos, pedaços de outros filmes, outras vidas, outras narrativas. É como se Kleber tivesse decidido filmar não a história em si, mas sim a lembrança da história. Uma memória já corroída, permeada de silêncios, uma memória que insiste em sobreviver mesmo quando já não faz sentido algum.
Kleber faz aqui algo raríssimo: cria um cinema brasileiro que dialoga com o mundo, mas permanece enraizado no Brasil de uma forma insolúvel. O filme transita por noir, thriller, docudrama, ensaio, sátira e até western. Mas nada disso é pastiche. Nada disso é referência vazia. É como os gêneros fossem experimentados e, ao mesmo tempo, problematizados, um gesto autoral que só diretores em pleno domínio de sua linguagem conseguem executar.
Ele filma como quem pergunta: “O que o cinema pode ser quando a memória já não sustenta mais a realidade?”E cada cena parece uma resposta possível, ou uma recusa em responder.
Falar do final sem entregar o final é sempre um desafio, e, sinceramente, este final não deve ser explicado.Deve ser sentido.Porque o que Kleber faz ali é extraordinário: ele pega o clímax, essa grande expectativa construída pelo cinema tradicional, e o implode com uma delicadeza cirúrgica. Transforma o grande momento esperado em uma espécie de anticlímax delicioso, surpreendente, quase provocativo.E aí reside a genialidade.O final do final não é uma traição ao público. É um pacto. É uma maneira de dizer:“O que você esperava nunca foi o ponto. O ponto é o que resta.”O filme termina como a vida termina: sem resolução total.E, paradoxalmente, é isso que o torna completo.Kleber não encerra apenas uma narrativa.Ele encerra um ciclo estético, uma conversa longa com a memória brasileira, um jogo com o próprio cinema, e deixa para o espectador a responsabilidade de preencher a lacuna.Porque a lacuna é o filme.
Se formos honestos, talvez este seja mesmo o melhor filme nacional do século XXI. Poucas obras conseguiram articular com tanta precisão: a inventividade formal, a mistura de gêneros, a crítica cultural, a reflexão sobre o país, e, acima de tudo, a consciência da memória como elemento vivo. É um filme que entende o Brasil, não o Brasil turístico, nem o Brasil domesticado, mas o Brasil espectral, fendido, atravessado por contradições.O Brasil que tenta esquecer e o Brasil que insiste em se lembrar. O Brasil que produz arte mesmo quando o mundo parece ruir.
Kleber fez aqui um gesto cinematográfico que vai ecoar durante décadas.Não é exagero dizer que O Agente Secreto entra para o panteão das obras definitivas do nosso cinema. Mas ele vai além. Ele é também uma espécie de ritual, uma despedida e um recomeço. Um filme que reconhece a impossibilidade de totalizar uma vida, uma memória, um país, e justamente por isso nos oferece uma experiência tão grandiosa.
A direção de arte é um espetáculo silencioso. Ela não ilustra a narrativa: ela a continua. Cada objeto parece carregado de história, cada parede carrega uma rachadura que funciona como cicatriz, cada ambiente é uma memória materializada. Há um momento em que a câmera atravessa uma sala e encontra, na parede, quadros de presidentes militares do período da ditadura, alinhados como se ainda vigiassem o país. A câmera faz uma pausa de dois segundos, um silêncio visual que pesa mais do que qualquer diálogo, e então a história segue, como se dissesse que o Brasil tenta andar para frente, mas a memória insiste em puxar para trás. Os espaços são compostos como fotografias vivas: ventiladores antigos que giram sem pressa, pilhas de documentos amarelados, janelas altas que deixam entrar luz torta, tapetes gastos, rádios antigos que parecem emitir ecos de outra década. Até os objetos mais banais, uma caneca lascada, uma chave enferrujada, um cinzeiro esquecido, são portadores de significado. A direção de arte transforma cada ambiente em fantasma: tudo parece carregado de lembrança, tudo parece prestes a desaparecer.
O elenco, liderado por Wagner Moura, é o corpo vivo de tudo o que o filme pensa e sente. Ele constrói Marcelo/Armando com uma mistura hipnótica de cansaço, lucidez e paranoia, justificando com folga o prêmio de interpretação que levou em Cannes. Tânia Maria, como Dona Sebastiana, encarna uma figura quase mítica, maternal e política ao mesmo tempo; Maria Fernanda Cândido dá ao passado uma elegância ferida, cheia de camadas; Gabriel Leone surge como Bobbi com uma ambiguidade elétrica; Carlos Francisco carrega no corpo a memória esmagada e resistente da classe trabalhadora; Alice Carvalho e Laura Lufési representam uma geração que tenta ressignificar o trauma; Udo Kier e Thomás Aquino completam esse mosaico como presenças que parecem abrir portas para outros filmes, outras vidas. Não há excesso: é um elenco que respira na mesma frequência da memória falha, da vida suspensa, da história que insiste em retornar.
ATENÇÃO! A PARTIR DAQUI CONTÉM DETALHES (SPOILERS) DO ÚLTIMO ATO DO FILME.
E então chegamos à cena que rasga o filme por dentro, aquela que transforma memória em ferida. Marcelo, infiltrado no Recife dos anos de chumbo, passa o filme inteiro tentando encontrar a ficha de obituário de sua mãe, tentando alcançar um nome, um rosto, uma origem mínima. Ele vasculha arquivos, gavetas, recolhe pistas, hipóteses, até que finalmente, de uma forma obrigatória, junta todas as fichas de mulheres que poderiam ser sua mãe e foge pelo carnaval, uma multidão viva, pulsante, caótica, que contrasta com o vazio interno daquele homem que ninguém vê. Essa é a última vez que o vemos de forma mais ativa em cena. O filme então respira entre algumas cenas, e corta. Mais de quarenta anos se passam. O cinema onde boa parte da história aconteceu não existe mais: virou hospital. A sala onde antes se projetavam fantasmas agora projeta exames; o lugar onde as pessoas iam sonhar virou o lugar onde vão tentar sobreviver. E ali, num corredor branco e sem memória, vemos o filho de Marcelo, já médico, já envelhecido, dizendo que não se lembra do pai. O que Marcelo buscou a vida inteira, o filho perdeu sem perceber. Nesse choque entre passado e presente, entre cinema e hospital, entre pai e filho, Kleber nos entrega sua revelação final: a memória é o único país que carregamos. É frágil, caprichosa, falha, mas é tudo o que temos. O que esquecemos morre. O que lembramos resiste. E talvez seja por isso que O Agente Secreto é tão devastador: porque nos mostra que, no fim, somos feitos apenas disso, dos fragmentos que tentamos desesperadamente não perder.