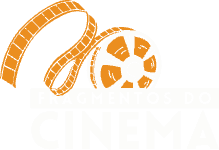Ilha Silenciosa (2021)
Direção: Aga Woszczyńska

Ilha Silenciosa, da diretora polonesa Aga Woszczyńska, é um cinema de fissuras: nada acontece em excesso, nada se anuncia em gritos, e no entanto o desconforto cresce como uma maré subterrânea prestes a romper. À primeira vista, o enredo parece mínimo: um casal viaja para uma ilha mediterrânea em busca de descanso em uma casa de temporada. Mas, desde o primeiro instante, a promessa de perfeição se desfaz. Pequenos detalhes, como um portão emperrado, uma piscina esvaziada, o calor sufocante, funcionam como rachaduras que lentamente contaminam toda a experiência.
A cineasta filma com rigor quase cirúrgico. A câmera permanece imóvel, a trilha sonora rareia até desaparecer, e o silêncio ocupa a tela como uma presença concreta. O espectador é obrigado a observar gestos ínfimos, olhares atravessados, a distância emocional de um casal que parece mais encenar papéis do que viver uma relação. A casa de férias, com seus defeitos banais, converte-se em metáfora do relacionamento: construída para aparentar solidez, mas corroída por fissuras invisíveis. Esse dispositivo transforma o público em cúmplice, forçado a encarar o que não se diz, sem a proteção de cortes acelerados ou música que suavize a tensão.
O título não é apenas referência geográfica. O silêncio que atravessa Ilha Silenciosa é psicológico e ético. É o silêncio entre os personagens, incapazes de nomear tensões latentes. É o silêncio diante do incômodo, diante do outro. Um silêncio que protege, mas também denuncia, porque revela a recusa em agir, a imobilidade escondida sob a máscara da civilidade. Em Woszczyńska, o silêncio não é ausência, mas matéria densa. Ele ocupa cada quadro, cada espaço abandonado, cada cena em que esperaríamos uma reação e encontramos apenas hesitação.
Há momentos em que esse recurso atinge sua forma mais radical. Um exemplo emblemático ocorre quando duas mulheres, que se afastam da mesa, retornam logo depois sorrindo. Não sabemos o que se passou fora de quadro. A câmera nos entrega apenas o gesto do retorno e o riso, deslocado, quase artificial. Nada é explicado, não há contexto que preencha a lacuna. Essa escolha revela que o filme é menos sobre aquilo que vemos e mais sobre o que nos é negado. É nesse espaço invisível, nesse não-dito, que a narrativa encontra sua força. O sorriso, em vez de aliviar, pesa, pois carrega um segredo inacessível ao espectador e, justamente por isso, amplia a sensação de estranhamento.
O Mediterrâneo, espaço idílico de lazer para turistas europeus, é também palco de crises migratórias e de desigualdades brutais. O filme nunca explicita esse pano de fundo em diálogos diretos, mas ele está presente, insinuado: na água que falta, nos ecos de uma realidade que penetram a bolha da casa de férias. É nesse contraste que a obra ganha densidade política: o conforto privado de uns existe lado a lado com a precariedade de outros. Woszczyńska mostra como o turismo pode ser uma forma de cegueira deliberada, um recorte de mundo que se empenha em excluir o que incomoda.
Outro aspecto central é a desconstrução da masculinidade heroica. Em várias situações, parece preparar-se o terreno para uma reação clássica: o gesto corajoso, a atitude resolutiva, a performance da virilidade. Mas o que surge é a hesitação, a passividade, o colapso de uma imagem íntima de força. Esse vazio simbólico mina não apenas a autopercepção masculina, mas também o equilíbrio do casal, que passa a se mover em um território de admiração perdida e expectativas frustradas. O filme expõe, com precisão incômoda, como a ideia de coragem masculina pode ser apenas uma construção frágil, desmontada no instante em que é exigida.
Assistir a Ilha Silenciosa não é uma experiência confortável. O filme rejeita explosões emocionais e discursos prontos. Ele exige paciência e entrega, e em troca oferece uma imersão no desconforto prolongado, no mal-estar que se infiltra até ocupar por inteiro o olhar do espectador. É o cinema do que não se diz, do que não se faz, do que não se assume.
Essa lógica se concentra de forma exemplar na cena final. A mesa reaparece como espaço simbólico. De cada lado, o casal polonês ocupa posições rígidas, como dois blocos incapazes de se encontrar. Ao centro, um imigrante é enquadrado pela câmera, tornando-se o eixo de toda a composição. A disposição não é casual: os dois europeus em extremidades opostas representam a imobilidade de uma sociedade que se fecha em si mesma, enquanto a figura estrangeira, silenciosa e central, sustenta o peso de toda a narrativa. O quadro funciona como metáfora política: a Europa sitiada, que convive com o “outro” como presença incômoda mas inescapável. O imigrante é ao mesmo tempo invisível e indispensável, marginal e centralizado, tratado como excesso mas posicionado como núcleo.
Essa configuração pode ser lida como reflexo de um mundo em guerra não declarada, onde fronteiras, nacionalismos e xenofobias moldam relações cotidianas. O Mediterrâneo que acolhe turistas também é o mesmo Mediterrâneo que sepulta migrantes, e o enquadramento final escancara essa contradição sem palavras. Dois corpos europeus imóveis, presos ao seu próprio silêncio, e entre eles o corpo estrangeiro, que não pode ser expulso da cena. É a prova definitiva de que Ilha Silenciosa não fala sobre o que vemos, mas sobre o que nos recusamos a ver.