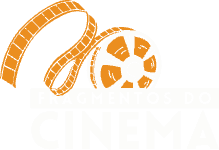Hamnet (2025)
Direção: Chloé Zhao

ENTRE A POESIA VISUAL E UMA DOR DESIGUAL.
Hamnet, dirigido por Chloé Zhao, surge como uma obra cercada por prestígio, expectativa e uma matéria dramática de enorme potência simbólica. Inspirado na história do filho de William Shakespeare, o filme mergulha na experiência do luto familiar e nas formas silenciosas pelas quais a dor atravessa o tempo e transforma indivíduos. No entanto, o resultado final revela uma obra que oscila entre momentos de enorme sensibilidade estética e decisões narrativas que enfraquecem seu impacto emocional, conduzindo o filme a um lugar intermediário entre a beleza formal e a frustração dramática.
A construção visual é, sem dúvida, um dos grandes trunfos do longa. A fotografia aposta em um naturalismo contemplativo, explorando a luz orgânica, os espaços rurais e a intimidade doméstica com extremo cuidado plástico. Há uma clara tentativa de transformar o cotidiano em poesia imagética. Esse refinamento estético cria sequências de grande delicadeza sensorial e estabelece uma atmosfera coerente com o universo emocional da narrativa. Ainda assim, essa mesma escolha visual, em determinados momentos, acaba sufocando o drama, como se o filme preferisse observar o sofrimento à distância ao invés de permitir que ele se desenvolvesse com maior intensidade dramática.
O centro emocional da narrativa está em Agnes, uma mulher apresentada como livre, intuitiva e profundamente conectada com o mundo natural e com sua própria identidade. Ela surge como alguém que escapa dos padrões tradicionais de submissão afetiva e social. No entanto, ao consolidar sua relação com William, essa autonomia vai sendo lentamente absorvida por uma estrutura conjugal que a sobrecarrega. Agnes passa a ocupar simultaneamente os papéis de esposa, companheira emocional, mãe, cuidadora e sustentáculo da organização familiar, enquanto William trilha uma trajetória mais errática, distante e voltada para si próprio.
Agnes é construída visualmente como alguém que interpreta o mundo através da flora, como se árvores, raízes, ciclos e estações fossem sua forma de compreender a existência. A natureza não funciona apenas como cenário, mas como extensão emocional da protagonista. Agnes percebe o tempo no crescimento das coisas, entende a vida como um movimento cíclico e lida com o invisível como quem observa a terra depois da chuva. Nesse contexto, o vestido vermelho que aparece com frequência assume forte valor simbólico. A cor rompe o naturalismo da paisagem e funciona como sinal de pulsação vital dentro de um ambiente progressivamente tomado pela ausência. O vermelho sugere corpo, sangue, parto, vínculo e também alerta, como se o filme anunciasse constantemente que algo vivo está prestes a ser ferido. Após a tragédia, essa relação com a natureza se transforma. O que antes era espaço de cura passa a ser território de memória, e cada paisagem deixa de ser apenas ambiente para se tornar depósito do luto. Agnes não supera a perda. Ela aprende a coexistir com ela, como quem convive com uma estação que inevitavelmente retorna.
Dentro dessa estrutura, o filme encontra uma de suas camadas sociais mais interessantes ao retratar a dinâmica conjugal entre Agnes e William. A relação reflete um padrão histórico recorrente em que o casamento amplia as possibilidades de realização masculina enquanto restringe o espaço de autonomia feminina. William encontra na família uma base emocional e prática que sustenta sua expansão artística e intelectual. Agnes, por outro lado, vê sua individualidade gradualmente dissolvida pelas responsabilidades domésticas e maternas.
O momento da morte de Hamnet intensifica ainda mais essa assimetria. O luto vivido por cada personagem segue caminhos radicalmente distintos. William encontra na distância geográfica e na criação artística uma forma de elaborar a dor, transformando o sofrimento em linguagem e reconhecimento público. Agnes enfrenta um luto físico, cotidiano e silencioso. Ela não possui o privilégio do afastamento emocional, pois a continuidade da vida exige presença imediata. Ainda existem filhos para cuidar, tarefas para cumprir e uma rotina que impede qualquer elaboração simbólica mais ampla da perda.
É justamente quando o filme parecia consolidar essa perspectiva que surge seu maior problema narrativo. Após a morte do menino, a história desloca abruptamente seu eixo emocional. A narrativa passa a acompanhar William em Londres e constrói um momento quase teatral em que ele, caminhando à noite diante de um rio, concebe os versos iniciais de Hamlet em um rompante criativo impulsionado pela perda do filho. A partir daí, o roteiro abandona progressivamente o olhar sobre Agnes e investe na trajetória artística do dramaturgo e no lançamento da peça.
Essa inversão provoca um efeito ambíguo. Por um lado, o filme dialoga com uma interpretação histórica fascinante sobre a relação entre a perda do filho e a criação da obra teatral. Por outro, essa escolha narrativa gera um distanciamento emocional significativo ao deslocar o foco do sofrimento íntimo da mãe para a construção do legado artístico do pai. O problema não está em reconhecer que a arte pode nascer da dor, mas na maneira como o filme parece romantizar esse processo, aproximando-se de uma lógica na qual a tragédia infantil adquire uma função quase justificadora da genialidade masculina.
O desfecho, ao conduzir Agnes a um momento de riso durante a encenação de Hamlet, sintetiza essa ambiguidade. A cena pode ser interpretada como um gesto de reconciliação simbólica entre dor e arte, sugerindo que a criação artística oferece algum tipo de transcendência para o sofrimento humano. Ao mesmo tempo, essa resolução pode soar emocionalmente simplificadora e até desconfortável, pois sugere uma espécie de redenção estética que não corresponde à brutalidade do luto vivido pela personagem. Existe a sensação de que a experiência devastadora de Agnes acaba convertida em legado cultural através de William, reproduzindo uma estrutura histórica onde o sofrimento feminino permanece invisível enquanto o masculino é eternizado como criação.
Também é impossível ignorar a presença de Emily Watson, que entrega uma atuação extremamente sólida e emocionalmente precisa. Para quem acompanha sua carreira desde os anos 90, é especialmente gratificante vê-la novamente em um papel que exige densidade dramática e maturidade interpretativa. Watson possui uma habilidade rara de transmitir camadas emocionais profundas sem recorrer a excessos, trabalhando através de olhares, pausas e pequenas reações que ampliam o impacto das cenas em que participa. Mesmo sem ocupar o centro absoluto da narrativa, ela se impõe como um dos pilares dramáticos do filme, oferecendo uma presença que equilibra sensibilidade e força silenciosa. É uma atriz que construiu performances memoráveis ao longo da carreira e que, ainda hoje, parece receber menos reconhecimento público do que merece. Em Hamnet, ela reafirma seu talento com uma naturalidade impressionante, tornando-se facilmente um dos grandes destaques do elenco.
Apesar dessas fragilidades narrativas, o filme preserva qualidades importantes. As atuações são consistentes e delicadas, a direção demonstra enorme sensibilidade visual e a proposta temática mantém força reflexiva mesmo quando tropeça em suas escolhas estruturais. A obra provoca discussões relevantes sobre maternidade, memória, privilégio emocional e as diferentes formas pelas quais homens e mulheres são socialmente autorizados a viver e expressar o sofrimento.
No fim, Hamnet se estabelece como um filme que carrega grande potencial dramático e beleza estética, mas que se perde ao tentar equilibrar duas narrativas concorrentes. Entre a poesia visual e a construção emocional, entre o retrato íntimo do luto materno e a mitificação da criação artística masculina, o longa encontra momentos de profunda sensibilidade e outros de frustração narrativa. O resultado é uma obra tecnicamente admirável, tematicamente provocadora, mas emocionalmente irregular, situando-se como um filme mediano que encanta pela forma e provoca pela reflexão, mas que nem sempre consegue transformar sua densidade temática em uma experiência dramática plenamente satisfatória.