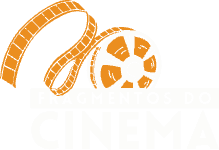Eddington (2025)
Direção: Ari Aster

"Havia um mestre das imagens que erguera uma deslumbrante galeria de quadros estáticos. Cada sala exibia pinturas que se repetiam em padrões de beleza impossível, cores intensas e formas que pareciam viver por si mesmas. Pessoas vinham de todos os cantos para contemplar aquele espetáculo, maravilhadas com cada detalhe meticulosamente pintado.
Um viajante chegou, mas não se deixou enganar. Percorreu a galeria lentamente, observando cada tela, cada pincelada. Finalmente, parou diante do mestre e perguntou:
— Onde está a alma desta galeria?
O mestre sorriu, mas permaneceu em silêncio.
Com o passar dos dias, os visitantes começaram a notar algo estranho: os quadros se tornavam previsíveis, suas formas já não surpreendiam, e a intensidade das cores parecia desvanecer. Um silêncio inquietante tomou as salas. Então, durante uma noite silenciosa, algumas telas caíram, revelando o que estava por trás.Paredes nuas, suportes de madeira, nada além de espaço vazio.
O viajante olhou ao redor, e sua voz ecoou pelo salão:
— A beleza é necessária, mas não basta. O que permanece não é o quadro, mas o coração que pulsa por trás dele.
O mestre finalmente falou, sua voz fria e distante:
— Coração? Talvez nunca tenha existido.
E enquanto o viajante recuava, horrorizado, a galeria começou a desmoronar silenciosamente, engolindo as paredes e corredores, refletindo agora não a beleza, mas a própria ausência, uma prisão de imagens que nada podia conter.
No fim, aqueles que buscavam encanto descobriram apenas um vazio interminável, e o viajante percebeu que a galeria nunca foi feita para exibir arte: ela foi feita para mostrar a própria ilusão da busca, e engolir aqueles que ousavam questioná-la."
O cinema não é galeria de quadros estáticos, é movimento, respiração, ritmo, carne, suor e alma. Quando a câmera se alonga apenas para se alongar, quando o plano insiste em sua própria beleza em vez de servir à narrativa, o que resta é soberba. E soberba no cinema é uma armadilha: porque a forma nunca pode eclipsar a vida que pulsa dentro da história.
Foi o erro de Ari Aster em "Midsommar", um filme que acreditava que o choque das cores, a simetria quase litúrgica e a duração sufocante dos planos seriam suficientes para atravessar o espectador. Mas estética sem substância é apenas verniz. E nesse ponto, o eco reverbera também neste filme que agora se apresenta: mais uma obra que tenta se equilibrar no fio entre o trágico e o cômico, mas tropeça no vazio da própria ambição.
Porque não basta invocar a estética. É preciso que ela se justifique no que se conta. Se o plano fosse seco, cru, áspero, talvez funcionasse melhor. Se fosse simples, talvez fosse mais humano. O excesso torna-se ruído. O excesso faz o público sentir o diretor sentado ao nosso lado, cutucando o ombro e sussurrando: “Veja como sou brilhante, veja como domino o quadro”. Mas o cinema que me interessa não é o do ego do diretor, é o cinema que se dissolve, que desaparece atrás da história, que me faz esquecer quem filma para me lembrar apenas daquilo que pulsa na tela.
E aqui, quando olho para os personagens, sinto o vazio. Eles são peças dispostas em tabuleiro, mas não têm sangue correndo nas veias. Os coadjuvantes: rasos, funcionais, descartáveis. São sombras que servem apenas à engrenagem da trama, mas não vivem por si. Cadê o estudo desses personagens? Cadê a tentativa de dar peso ao olhar, uma voz que não seja só de roteiro, mas de vida? O prefeito, interpretado por Pascal, quem é ele? Qual sua dor, sua fúria, sua ambição? Nada sabemos. E é justamente no detalhe do humano que o cinema se diferencia da propaganda ou da farsa. Fazer cinema exige muito, de quem o faz, mas também de quem o assiste. Eu me exijo ao ver um filme. Exijo que me devolvam densidade, que não me entreguem apenas um rascunho de pessoas funcionando como peças descartáveis.
E, no entanto, quando penso no trágico-cômico, impossível não lembrar de Quentin Tarantino. Ninguém equilibra essa fronteira com tanta precisão quanto ele. O riso que explode em meio à tragédia, o sangue que respinga na tela enquanto uma piada atravessa o diálogo, o público gargalhando e ele, por trás da câmera, rindo de volta conosco. Tarantino não ri do espectador, ri com o espectador. Um jogo de cumplicidade. Um pacto entre quem conta e quem escuta. E talvez esteja aí o abismo deste outro filme: quando a ironia não se sustenta, quando o riso não encontra eco humano, resta apenas a piada vazia, a farsa desconectada.
No cinema contemporâneo do século XXI vimos diretores abraçarem a polêmica com potência: Dogville de Lars von Trier, Irreversível de Gaspar Noé, Parasita de Bong Joon-ho. Filmes que não tiveram medo de cutucar feridas, de dividir plateias, de sair da sala escorrendo desconforto e fúria. Obras que provaram que é possível ser esteticamente ousado e ainda assim visceralmente humano. Que não basta construir belos quadros: é preciso ferir, fazer sangrar, deixar marcas. O cinema só existe quando, ao apagar das luzes, o espectador sai diferente de como entrou.
É por isso que cobro tanto. Porque o cinema me deu muito. Me ensinou a pensar, a duvidar, a rir da própria dor. Quando entro em uma sala escura, não aceito ser tratado como massa de manobra, como cliente de uma imagem polida mas vazia. Eu quero humanidade, quero profundidade, quero falhas, quero personagens que tremam e se contradigam. Porque a vida é isso. E se o cinema não é vida, o que é?
No fim, o que me revolta não é o filme falhar, falhar faz parte. O que me revolta é ver a promessa de grandeza desperdiçada em vaidade. É ver personagens reduzidos a funções, quando poderiam ser universos inteiros. É ver uma estética sufocante que se esquece da respiração. É ver um riso que não ecoa porque não há ninguém rindo de volta.
Fazer cinema é ato de coragem. Ver cinema também deveria ser. Por isso exijo. Porque, no fundo, o cinema só se cumpre quando nos devolve humanidade. E eu não assisto para ver quadros bonitos, assisto para ver a vida, mesmo que seja trágica, grotesca, absurda ou ridícula. Porque só no confronto entre o riso e o abismo é que encontramos aquilo que realmente nos move.
E não para por aí. Se o filme já falha ao reduzir a humanidade a caricatura e o capitalismo a ruído de fundo, sua estrutura narrativa ainda insiste em tropeçar naquilo que, em 2025, já não deveria ser sequer questão.
O roteiro tenta sugerir que não havia um lado certo, que todos estavam igualmente perdidos, igualmente devorados pela espiral de paranoia e populismo. Mas essa tentativa de “equilíbrio” soa como aberração histórica. Polarização é parte intrínseca da vida política e social; não é novidade, não é choque. E pior: insinuar que não havia lado certo é fingir neutralidade diante do óbvio. Em um tempo em que o racismo, o populismo autoritário e a paranoia social já devastaram sociedades inteiras - ontem, hoje, e sem dúvida amanhã - querer parecer equidistante não é coragem artística, é covardia narrativa. É como olhar para os anos de Bolsonaro no Brasil, Trump nos EUA, Orban na Hungria e Netanyahu em Israel e fingir que “tudo é debate”. Um filme que tenta fazer isso não é crítico, é cúmplice. Em vez de escolher um lado, de ir até o fim na denúncia ou na defesa de algo, o filme prefere se esconder atrás do verniz da “complexidade”. Complexidade que, no fundo, é apenas medo de assumir posição.
Aqui, o silêncio do filme diante da violência política é tão grave quanto a omissão de historiadores e jornalistas que fecharam os olhos à ascensão da Ku Klux Klan, ao pogrom de Charlottesville, ao massacre de Utoya na Noruega, à perseguição de Rohingyas em Mianmar, ou à destruição sistemática do meio ambiente pelo lobby anti-indígena no Brasil. É uma neutralidade que cheira a cooperatividade: quando a arte escolhe não ter um posicionamento, ela se torna propaganda silenciosa da barbárie.
Outro ponto que o filme trata como se fosse descoberta filosófica: “as pessoas foram levadas pela manada”. Mas isso não é revelação, é obviedade. A história da modernidade já mostrou isso em escala global: massas movidas pelo medo, pelo ressentimento, pelo mercado: do genocídio em Ruanda à ascensão da extrema-direita europeia, do apartheid à eleição de autocratas com discursos de ódio, até o plano genocida de Hitler e a cumplicidade de milhões de cidadãos. O filme, ao insistir nisso como se fosse tema central, apenas repete o já sabido - e o faz sem frescor. Não há nuance, não há tensão. Há apenas o dedo apontando para a manada, como se o espectador fosse incapaz de perceber. Só que a questão não é a manada em si, e sim o pastor invisível que a conduz. E esse pastor, no caso contemporâneo, tem nome: capitalismo selvagem, elites corruptas, conglomerados midiáticos que lucram com ódio e desinformação, CEOs de tecnologia que manipulam opinião pública e governos que exploram crises para perpetuar desigualdades. Mas o filme, mais uma vez, evita nomear. E quando a arte evita nomear o monstro, ela não o enfrenta, apenas o alimenta.
Muito se falou sobre o filme “atualizar o western”, deslocando o gênero para a paisagem de uma cidade em ruínas. Mas se o objetivo era reinventar, a execução falhou miseravelmente. O western contemporâneo já foi revisitado com maestria em obras muito mais potentes: Os Indomáveis (2007), O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford (2007), Sangue Negro (2007), A Qualquer Custo (2016), Ataque dos Cães (2021). Cada um desses filmes soube tensionar a tradição do faroeste com a brutalidade moderna, trazendo dilemas éticos, violência crua e a secura de um gênero que respira na aridez. Comparados a eles, Eddington parece apenas brincar com ícones superficiais, uma apropriação rasa de estética sem substância. Uma caricatura de western, sem poeira, sem suor, sem duelo verdadeiro.
A promessa de desconforto é outro dos pilares da obra, mas uma promessa raramente cumprida. É fácil filmar uma cena desconexa, alongar um silêncio, forçar um gesto grotesco e acreditar que isso gera inquietação. Mas o desconforto verdadeiro não está na forma gratuita: está no modo como a forma e o conteúdo se fundem para tocar algo íntimo no espectador. Aqui, a maior parte dos momentos se esgota em si mesma. O que deveria ser tensão vira cansaço, o que deveria ser inquietação vira indiferença. E quando se compara a filmes que dominam a arte do desconforto — como Funny Games (1997/2007), Dogtooth (2009) ou O Sacrifício do Cervo Sagrado (2017) —, a diferença é gritante. Esses filmes não apenas criam desconforto; eles o instalam dentro do espectador, corroendo mesmo depois do fim. Aster, ao contrário, oferece apenas o simulacro da perturbação, como se o gesto fosse suficiente. Não é.
E talvez o ponto mais irritante: a crença de que “ninguém sabia”, de que os personagens agiam em ignorância completa do horror que os circundava. Essa premissa seria ingênua se fosse um primeiro filme universitário, mas em 2025, soa quase ofensiva mesmo sabendo que a história se passa em 2020. Os cabeças sabem. Sempre souberam. O capitalismo globalizado se sustenta de mortes, guerras e exploração. Governos inteiros já se elegeram e reelegeram sobre o cadáver de milhares. Achar que personagens de uma cidade poderiam simplesmente não saber, não entender, não se dar conta, é negar a própria condição humana de consciência, é infantilizar o espectador. Não existe inocência em massa: existe conveniência, cumplicidade, silêncio comprado. O filme, ao insistir na ignorância coletiva, apaga a responsabilidade histórica de indivíduos e sociedades. E isso, para uma obra que se pretende crítica, é mais que um erro — é um crime.
Não se trata apenas de cinema: é quase um manifesto silencioso da elite cultural, que evita chamar pelo nome aqueles que apoiam ideias autoritárias. É como se o filme estivesse mais preocupado em não ofender reacionários do que em realmente denunciar injustiças. Um pacto silencioso, escondido atrás do verniz de humor negro. Um riso que, em 2025, soa cúmplice do ódio. Mas é justamente nesse ponto que o roteiro beira a irresponsabilidade: quando insere piadas rápidas e superficiais sobre as manifestações progressistas. O branco que defende o negro de maneira paternalista e desajeitada; o suposto gay que encontra seu auge online ao “salvar” o xerife que antes era seu algoz; o negro que ignora a própria luta racial e que depois é culpado injustamente por um branco; o prefeito hispânico cercado de amigos e algozes — tudo reduzido a estereótipos que provocam riso, mas não reflexão.
O problema não é a contradição, é a superficialidade. O filme cria a ilusão de estar debatendo questões sociais sérias, mas na verdade apenas arranha a superfície para gerar riso e choque. O público ri, mas não pensa. A sátira não se sustenta como análise crítica: ela desarma o espectador, reforça a sensação de que “tudo é piada” e normaliza o descompromisso moral diante de estruturas reais de poder e opressão.
O resultado é ofensivo porque atinge diretamente lugares de fala que, no século XXI, se tornaram não só pauta de luta, mas condição de existência para milhões. Se a piada é boa, o riso pode ser libertador. Mas quando ela mira nas fragilidades históricas, sem propor reflexão, a linha entre sátira e crueldade se apaga. E é esse riso cínico, que não confronta nem educa, que deixa o filme no território da irresponsabilidade estética e social.