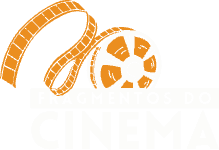Blue Moon (2025)
Direção: Richard Linklater

Richard Linklater retorna em Blue Moon ao território íntimo que sempre foi sua maior força: o espaço reduzido, quase teatral, onde algumas pessoas se atravessam por meio de palavras, improvisos, hesitações e confissões inacabadas. O filme não depende de acontecimentos totalmente externos, depende de vibração. Depende do modo como uma fala nasce, cresce, explode e se dissolve dentro da próxima. É nesse ambiente de diálogos que respiram e ferem que surge uma das tiradas mais impagáveis do personagem vivido por Ethan Hawke: quando ele admite, com humor acelerado e vaidade caótica, que está escrevendo um musical inteiro sobre ela, Elizabeth, a personagem interpretada por Margaret Qualley.
Inspirado num filme de Frank Capra, Prelúdio de uma Guerra, mas rebatizado com brilhante desfaçatez como Prelúdio de uma Transa, esse gesto revela não apenas uma piada extraordinária, mas a própria dinâmica interna do filme. O personagem cria narrativas como quem fabrica boias para não afundar. Ele transforma Elizabeth em musa, matéria-prima, personagem, porque só consegue existir por meio da construção de histórias que o tornem maior do que realmente é. Linklater sabe que a comédia mais inteligente nasce dessa franqueza excessiva, dessa autoperformance involuntária onde vulnerabilidade e charme se misturam sem pedir permissão.
E se os personagens parecem, a princípio, ocupar o bar como protagonistas absolutos, isso acontece porque o espaço também atua com eles. Em Blue Moon, certos objetos, aparentemente secundários, funcionam como instrumentos de composição de cena, verdadeiros figurantes que participam da dramaturgia com a mesma precisão que qualquer fala. Os vasos de flores, silenciosos e frágeis, contrastam com a verborragia de Hart, lembrando-nos de que há delicadeza onde ele insiste em se mostrar expansivo. O copo de dose, manuseado como gatilho emocional, marca o ritmo de cada revelação, abrindo e fechando pequenas cenas internas. O baralho, sempre realocado, reembaralhado, traduz visualmente a instabilidade identitária que o personagem vive: nada nele é fixo, nada é definitivo, tudo pode ser redistribuído.
Ao fundo, os quadros cartunescos de personalidades famosas reforçam o caráter performático de Hart e a grandeza da atuaçãode Hawke: cercado por caricaturas, ele próprio parece uma caricatura de si. Já o quadro de paisagem, deslocado entre tantos rostos exagerados, atua como lembrete sutil de um mundo que existe fora daquela bolha emocional. Mesmo o homem tomando Martini ao fundo, figura quase fantasmática, transforma-se em testemunha silenciosa de um teatro íntimo que ele não pediu para assistir.
Mas é no piano que Linklater encontra sua peça de cena mais engenhosa. O pianista acompanha, reage, pontua, respira junto ao fluxo de fala do personagem. Às vezes sua música encerra uma frase como se sublinhasse o subtexto; outras vezes, antecede a fala, preparando a atmosfera. O piano parece comentar a própria existência daquele homem, como se o musical que ele alega estar escrevendo (ou prevendo) sobre Elizabeth já estivesse acontecendo ali, de forma improvisada e invisível. É uma maneira lúdica, e profundamente cinematográfica, de transformar o bar em palco sem jamais abandonar o realismo da cena.
Essa coreografia invisível entre personagens, objetos e música é atravessada, num momento crucial, por uma observação que funciona quase como a tese metafísica do filme. O barman, com serenidade de quem observa mais do que participa, diz: “Já parou para analisar que, na sua vida, 99% das pessoas são apenas figurantes? Porém, você é só mais um figurante na vida delas.”
Essa frase desmorona de imediato a fantasia de protagonismo que sustenta o personagem de Hawke, e, em alguma medida, sustenta todos nós. Vivemos acreditando que somos o centro fixo de nosso próprio enredo e que os desconhecidos ao redor, os rostos silenciosos e os corpos em trânsito, existem como plano de fundo para nossa experiência. Mas a fala do barman vira o espelho ao contrário: se todos são figurantes na nossa vida, somos igualmente figurantes na deles.
E é aqui que tudo o que parecia “cenário” ganha profundidade. O homem do Martini deixa de ser apenas um extra elegante: passa a ser o protagonista de sua própria história invisível. O pianista, até então reduzido à trilha viva das anedotas, revela-se artista pleno, autor de sua própria narrativa. Os quadros, antes decorativos, tornam-se vestígios das infinitas vidas que já existiram e que o personagem reduz a referências estéticas. O bar, que até então parecia palco, volta a ser mundo, múltiplo, indiferente, cheio de histórias simultâneas.
Mas o grande charme de Blue Moon está em não transformar essa descoberta em peso, e sim, em leveza. Até nas breves discussões sobre Deus e Guerra, que poderiam soar solenes em outros filmes, Linklater encontra humor, ironia e mobilidade. São ideias lançadas como fagulhas, não como tratados. O pensamento nunca pesa, ele dança.
O mesmo acontece com a maneira como o personagem de Hawke nos manipula como um livro encantado, conduzindo nossa imaginação por cores, desejos e possibilidades. Elizabeth surge primeiro vestida de vermelho, vibrante, marcante, como impacto visual inicial. Depois, quando Hawke conta uma história sobre um fim de semana que teriam vivido juntos, ele nos faz imaginá-la de amarelo. Logo depois, em outra camada, ele relata ela vestida de azul. E com isso, o espectador, já envolvido pela verídica beleza de Elizabeth, embarca na fantasia sem resistência.
E então, quando ela retorna, aparece de dourado brilhante, como se o próprio filme respondesse, sorrindo, ao delírio cromático que ele criou. É artifício puro: cinema, música e literatura costurados dentro de um caos cômico de fala, onde a imaginação não é consequência da narrativa, mas engrenagem dela. Linklater sabe que cores contam histórias, que palavras geram imagens, que a música organiza o desejo.
E é justamente quando estamos imersos nesse jogo cromático e narrativo que a chegada de Dick (Richard Rodgers), em sua identidade real, opera uma virada refinada. De repente, Hawke, tão expansivo e tão seguro de seu protagonismo verbal, se vê diminuído, quase apagado. A ironia é silenciosa, mas brilhante: aquele homem que ensaiava ser autor, maestro e personagem de seu próprio musical improvisado agora contracena com um compositor real. Sua ficção encontra a realidade, e perde.
Porque o mais importante, e talvez o mais discreto, é lembrar que o filme é, em sua essência, um retrato biográfico dos últimos dias do compositor Lorenz Hart. Linklater costura personagens reais e pseudopersonagens, entrelaçando biografia e invenção, reconstruindo afetos, memórias e tensões internas através desse híbrido delicado entre verdade e performance cômica. O bar deixa de ser apenas cenário: torna-se espaço de reencenação histórica. Hawke deixa de ser apenas um falastrão encantador: ecoa a alma deslocada de alguém que tenta permanecer relevante em um mundo que já o ultrapassou.
E nessa altura surge a revelação mais luminosa: Elizabeth não é apenas metáfora, invenção ou musa criada pela imaginação do personagem, ela realmente existiu. Ao final do filme, somos informados de que Blue Moon foi inspirado nas cartas trocadas entre Lorenz Hart e Elizabeth Weiland, correspondência preservada que sustenta parte da delicadeza emocional da obra. Isso reconfigura tudo. Elizabeth deixa de ser projeção cômica para assumir o mesmo estatuto ontológico de Hart e Rodgers. Não é pseudopersonagem: é presença histórica, é afeto real, é memória registrada. A fantasia que Hawke cria ao redor dela, as cores, as histórias aumentadas, o musical impossível — agora bate contra a verdade, e ao invés de desmenti-la, amplia seu impacto poético, mesmo que ainda exista dúvida sobre varios relatos. Linklater realiza algo raro: faz a imaginação tocar a realidade sem perder a leveza.
No fim, Blue Moon não é um tratado filosófico, mas uma celebração do improviso, da palavra que vira imagem, da cor que vira música, da imaginação que transcende a própria noite. É um filme sobre o prazer de inventar sentido, de rir do mundo enquanto tentamos não desaparecer, de transformar encontros breves em pequenas fagulhas de eternidade.
Diante de uma lua azul, até as histórias mal contadas ganham brilho, e até um musical inexistente pode iluminar, por instantes, aquilo que sentimos sem que precisemos entender tudo.