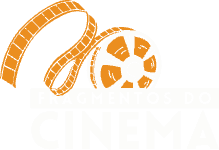Avatar: O Caminho da Água (2022)
Direção: James Cameron

James Cameron inicia Avatar: O Caminho da Água como quem retorna à própria casa. O filme se instala no tempo do dia que nasce e do corpo que reconhece o chão onde pisa. Pandora agora é morada. A voz de Jake Sully carrega a calma de quem aprendeu o nome das coisas e sabe onde repousar o olhar. Cameron se detém nos gestos pequenos, na repetição dos rituais, no convívio que não pede explicação. A vitória do passado surge apenas como a possibilidade de continuar ali, vivendo.
A família se constrói diante de nós com naturalidade. O nascimento de Neteyam anuncia continuidade, um corpo que chega para ocupar o tempo que segue. Kiri se impõe desde o início como presença deslocada. Sua origem permanece envolta em silêncio, e o filme respeita esse véu. Ela parece brotar de Pandora. Sua relação com o planeta antecede qualquer aprendizado. Escutar já faz parte de sua existência.
A comunhão com Eywa acontece como prática cotidiana. O sagrado atravessa a vida sem interrompê-la. O tempo passa. Outros filhos chegam. Cameron acompanha esse crescimento sem atalhos. Observa a repetição, a rotina, o convívio. A felicidade apresentada é simples, suficiente. A vida se sustenta nos vínculos que se formam e se renovam.
Esse cotidiano guarda ecos claros da Terra. O corpo de Jake revela a ruptura com a identidade militar que o moldou. Ele se deixa alterar pelo lugar que habita. As cenas de pai e filho pescando estabelecem uma pedagogia silenciosa, baseada na presença e na partilha do tempo. A permanência de alguns humanos indica que o conflito não nasce da origem, mas da lógica que acompanha quem chega armado, organizado para extrair, incapaz de ouvir.
A destruição irrompe sem preparação. O fogo alcança a floresta, as máquinas avançam, e o corte temporal fixa o trauma. Um ano depois. A violência já não é episódio isolado. Torna-se condição permanente. Cameron não retorna ao discurso anterior. Trabalha com as marcas deixadas, com a paisagem ferida que passa a organizar o cotidiano.
Um olho se abre. O coronel desperta em corpo avatar. O gesto visual ecoa o nascimento de Jake no primeiro filme, agora carregado de rigidez e finalidade. O avatar deixa de operar como travessia e passa a funcionar como instrumento. A tecnologia permanece a mesma. O uso redefine seu sentido. A transformação já não carrega promessa alguma.
Com o avanço da narrativa, surgem os resíduos de uma educação moldada pela guerra. Jake ensina os filhos a vigiar, obedecer, antecipar o ataque. Neytiri reage com desconforto crescente. O conflito entre os dois atravessa o cotidiano sem se declarar. A guerra externa reorganiza a vida interna. As armas passam a circular entre os Na’vi, reconfigurando relações de poder e introduzindo uma masculinização estranha àquela cultura, antes estruturada pelo vínculo e pela escuta.
Entre os humanos, o discurso se endurece. Pandora deixa de ser fronteira e passa a ser destino definitivo. A Terra, assumidamente em colapso, transforma a ocupação em justificativa moral. A violência se organiza como necessidade. Sobreviver passa a significar ocupar, mesmo que isso custe a permanência do outro.
O primeiro ato estabelece os novos personagens pelo convívio e reinsere o espectador naquele mundo sem exposição direta. Quando a narrativa avança, já não se trata de descoberta, mas da erosão lenta de um equilíbrio que parecia consolidado.
A decisão de Jake de deixar a floresta inaugura um deslocamento profundo. As cores se transformam. O espaço se abre. A água redefine luz, som e movimento. A adaptação exige reaprendizado. O corpo precisa se ajustar a outro ritmo, a outra lógica de existência.
No oceano, Pandora se revela em escala ampliada. O planeta se impõe como entidade múltipla, vasta, resistente à centralização de uma única história. Cada povo reflete o território que habita. O conflito nasce quando uma lógica tenta se impor como universal, ignorando as diferenças que sustentam o mundo.
As cenas de aprendizado na água se estendem. Respirar, flutuar, confiar. O tempo do filme acompanha o tempo do corpo. Kiri se destaca pela escuta profunda. Sua relação com o ambiente sugere memória, como se aquele corpo carregasse algo anterior à experiência vivida.
É também nesse ponto que o filme começa a revelar seus limites. Cameron confia excessivamente na duração como forma de imersão. O tempo, que no início constrói intimidade, mais adiante se transforma em peso. A repetição deixa de operar como gesto cotidiano e passa a funcionar como redundância narrativa. O filme retorna às mesmas situações, aos mesmos conflitos, às mesmas dinâmicas familiares, sem que isso gere novas camadas. O mundo é vasto, mas os movimentos se tornam previsíveis.
A estrutura dramática revela uma hesitação constante em assumir consequências irreversíveis. O filme sugere riscos, aproxima a tragédia, ensaia rupturas, mas frequentemente recua. A violência ronda, mas demora a se consumar. A tensão se dilui e o conflito passa a ser antecipado pela certeza do que será preservado.
Essa limitação se manifesta com força na construção dos antagonistas. O coronel retorna rígido, funcional, movido por finalidade clara, mas pouco se transforma. Ele persegue, reaparece, insiste. A ameaça se mantém constante, mas também estática. O conflito entra em ciclos, prolongando a narrativa sem permitir que ela avance de forma decisiva.
Há ainda o esgotamento do recurso à natureza como solução dramática. Pandora responde, intervém, resolve. O que antes carregava potência simbólica aqui se aproxima do automatismo. A força do planeta já é conhecida. Sua intervenção deixa de surpreender. O risco dramático se enfraquece quando o mundo parece sempre encontrar um modo de se defender, independentemente das escolhas feitas.
O terceiro ato concentra esse desgaste. As cenas de ação se acumulam, os espaços se confundem, a duração pesa. Cameron aposta na intensidade, mas entrega saturação. O filme insiste quando já disse o essencial, prolongando o espetáculo e fragmentando seu impacto emocional.
Mesmo a dor, quando finalmente se instala, chega cercada por excesso. A ruptura é real, mas poderia ser mais incisiva se viesse antes, se fosse menos protegida por camadas de perseguição e confronto. O filme demora a aceitar a perda como perda, e essa demora enfraquece parte de sua força trágica.
No fundo, o maior limite de O Caminho da Água está na dificuldade de abandonar o controle. Cameron constrói um mundo ferido, mas reluta em permitir que ele sangrasse mais cedo. Prefere alongar a experiência a radicalizar suas consequências. Essa escolha resulta em um épico visualmente imponente, mas emocionalmente irregular.
Ainda assim, quando o filme desacelera, algo verdadeiro emerge. A exaustão passa a integrar o sentido. Defender um mundo exige insistência, repetição e desgaste.
O encerramento fixa a permanência como condição. Pandora permanece ferida, habitável, exausta. O filme se alonga em sua forma e expõe seus limites. Ainda assim, encontra sentido no peso de sustentar um mundo ao longo do tempo. Defender passa a ser prática diária. O próprio filme carrega essa insistência.