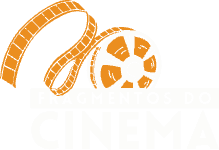Avatar: Fogo e Cinzas (2025)
Direção: James Cameron

Toda epopeia gosta de anunciar rupturas, mas poucas têm coragem de cumpri-las. Este retorno a Pandora se apresenta sob o signo do fogo, como se o simples nome já bastasse para prometer transformação. O fogo, no entanto, sempre foi menos metáfora e mais prática: organiza poder, funda hierarquias, cria vencedores e vencidos. Quando ele vira apenas título, já se percebe que algo foi evitado.
A grandiosidade permanece intacta. Tudo é vasto, caro, tecnicamente irrepreensível. Pandora continua bela como um monumento recém-restaurado, iluminado com extremo cuidado. O espetáculo impõe respeito, domina o olhar, ocupa o tempo. Ainda há ali um cinema que sabe se fazer notar, que acredita na imagem como valor absoluto.
Mas este capítulo da trilogia carrega um peso que os anteriores não tinham: o de administrar um mundo já consolidado. O primeiro descobria. O segundo expandia. Agora, resta sustentar. E sustentar exige mais do que deslumbre, exige conflito, pensamento e decisão. É justamente aí que a narrativa começa a fraquejar.
A troca de narrador sugere maturidade. Sai o pai, entra o filho. A promessa é clara: não mais a aventura de quem escolhe, mas o fardo de quem herda. O problema é que essa maturidade é mais anunciada do que exercida. A voz muda, mas o olhar permanece preso às mesmas soluções confortáveis.
O luto que abre o filme tenta instaurar gravidade, mas logo se acomoda. Ele não reorganiza o mundo, não altera relações, não exige revisão de crenças. Serve como clima, não como força histórica. Um luto educado, respeitoso, quase protocolar, que não ameaça a ordem das coisas.
É nesse ponto que os excessos experimentais de Cameron começam a pesar. Há uma insistência em imagens que querem ser revelação, epifania, transcendência. Especialmente na personagem de Kiri, tratada como a escolhida — novamente a escolhida —, a narrativa parece abdicar do desenvolvimento dramático em favor de visões, estados e sensações espalhadas como sinais sagrados para serem admirados. Não se constrói personagem, constrói-se aura.
O problema não é a ideia da escolhida, mas o abuso dela. Cameron parece não se satisfazer com o roteiro, com a progressão dramática, com o conflito encarnado. Prefere suspender o tempo para contemplação. A imagem substitui a ação. O símbolo substitui a consequência. O filme se alonga não porque precisa, mas porque quer ser admirado, e admiração, quando prolongada demais, cansa.
Esse cansaço se agrava quando surge o novo clã associado ao fogo. Ali estava a chance de deslocar o eixo da narrativa, de enfrentar o conflito interno de Pandora, de discutir poder, fé e dominação como produtos da própria civilização. Mas o filme prefere manter o clã como vilania funcional, enquanto dispersa sua atenção em experiências sensoriais que pouco acrescentam ao conflito central.
O clã que dá título ao filme não recebe estudo, não recebe contradição, não recebe humanidade. Existe apenas para cumprir função narrativa. Falta personificação, falta densidade, falta pensamento. Em vez de forças históricas em choque, temos um antagonismo raso cercado por imagens bonitas e pausas contemplativas. Para uma epopeia, isso é empobrecimento.
Há ainda um incômodo mais profundo, quase constrangedor, que atravessa este capítulo da trilogia: a recusa sistemática de James Cameron em permitir que algo realmente irreversível aconteça. O filme ensaia o gesto, prepara o clima, alonga o silêncio, aproxima a câmera, suspende o tempo. Tudo indica que uma decisão será tomada. Mas ela nunca vem.
O movimento se repete com insistência. A ameaça é anunciada, o conflito se arma, a violência parece inevitável. O espectador sente que algo precisa romper aquela ordem frágil. Então o filme recua. Não mata, não transforma, não compromete. Substitui a consequência por uma sensação. O “agora vai” vira apenas mais um “quase”.
Esse jogo de adiamento não cria tensão, cria previsibilidade. Em certo momento, o espectador já sabe: não vai acontecer. Não haverá ruptura real. Não haverá escolha trágica. Não haverá gesto que comprometa o mundo ou os personagens. O filme quer que acreditemos no risco, mas faz questão de nos proteger dele.
O que poderia ser suspense se torna rotina. O que poderia ser coragem narrativa vira um exercício repetido de contenção. É como assistir alguém levantar a mão inúmeras vezes, prometer o golpe, parar no meio do caminho e se satisfazer apenas com o susto causado. Chega a ser grotesco. Não pela violência ausente, mas pela covardia da não-decisão.
No fim, fica claro que Cameron não quer ferir seu próprio universo. Prefere mantê-lo em estado permanente de ameaça, sem jamais atravessar o limite. E esse é o gesto mais covarde de todos para uma epopeia: negar a si mesma a possibilidade da perda. O filme não falha por falta de espetáculo, falha por excesso de cautela.
Quando uma obra tão grande se contenta em espalhar imagens para serem admiradas em vez de ideias para serem enfrentadas, ela não deixa de impressionar. Mas começa, silenciosamente, a se esvaziar. O espectador não sai indignado, sai cansado. E esse cansaço não é tédio: é a constatação amarga de que, desta vez, a epopeia preferiu não fazer nada.